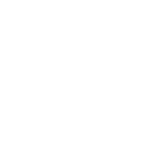Que os alienígenas existem, a gente sabe. Eu acabara de completar dez anos quando os passos no telhado me acordaram pela primeira vez. Meus olhos estalaram feito ovos fritos, afundei no colchão sem coragem de mover um músculo, menos ainda de encarar a janela e passei meses a fio com o sono leve, povoado de pesadelos semidespertos. Desde o incidente de 1996, os alienígenas perderam a vergonha. Descobriram que nós somos um zoológico de presas fáceis e até meio patéticos, de tão curiosos. Os primeiros relatos vieram de outros países; de repente, até os vizinhos tinham algo para contar. O Gugu só falava sobre isso no Domingo Legal e eu só falava sobre isso em casa, na escola, na rua, em todos os lugares… Os seres chifrudos de Varginha marcaram a minha geração, mas não foram os primeiros. Depois vieram os chupacabras, que são basicamente cães de caça estelares sedentos de sangue. (Dizem que um deles matou uns bois em São Lourenço e umas galinhas aqui em Lambari). São espécies diferentes, com objetivos diferentes.
Fui à piscina do Parque das Águas com meus amigos algum tempo depois e lá vinham eles de novo, dessa vez numa bola de fogo dourada sobrevoando a serra em plena luz do dia, ao entardecer. Pena que o Otávio e o Marcelo já tinham ido embora e perderam o show. Acho que era uma nave de resgate atrás do invasor que desceu em Varginha. É isso o que são, invasores – que nem os portugueses. Entretanto, de todas as coisas de outro mundo, a mais bizarra foi a que um grupo de pescadores viu no último sábado de maio. Chamaram eles de “pinga-ruim” quando eles falaram do Espírito de Luz. Não duvido que sejam, também não duvido que tenha realmente acontecido. Eu mesmo vi coisas que ninguém pode explicar e tenho apenas dezesseis anos. Só não passava pela minha cabeça que a “história de pescador” se chocaria com a minha de forma tão brutal.
O sol brilhava lá fora, mas a Dona Magda conseguiu trazer as nuvens mais rápido que a Tempestade dos X-Men. Ela falava sobre movimento uniformemente variado num tom lento e retrógrado. Para que diabos eu preciso saber disso, me perguntei.
— É todo movimento que tem aceleração constante…
Minhas pernas de espaguete buscaram uma posição mais confortável entre os vãos livres, sem sucesso. As carteiras escolares são os túmulos de um cemitério. A ponta da caneta riscava as últimas folhas do caderno do Batman, o All-Star subia e descia no piso dos anos 50, as casquinhas de remela custavam a sair.
Séculos depois, o sinal tocou e a Dona Elaine surgiu com um sorriso amarelo de bom dia, quase de boa tarde, falando sobre gêneros discursivos, sobre o emissor e o receptor, até que um exemplo prático pousou no jeans da minha coxa. Mirando de relance sobre os ombros, balancei a cabeça em tom de negação e amassei o bilhete – porque no fundo ainda estava chateado com o Gabriel. Daquelas coisas mal faladas que um dia a gente se arrepende. O maior problema da humanidade é a falta de comunicação, acho que foi o Albert Camus quem disse isso. Viva as aulas de Literatura!
Na lousa, o dever de casa era um trabalho em equipe. Alguns colegas resmungaram com a ideia de entrevistar pessoas mais velhas que tivessem histórias da cidade ou histórias de vida para contar. Eu, pelo contrário, fiquei superempolgado, mais do que se espera de um adolescente. Prova disso é que o sinal, daquela vez, não demorou. O tempo é relativo – para não dizer que não aprendi nada com a Dona Magda.
Otávio e Marcelo esperavam por mim no portão do ginásio. De lá, fomos até a lanchonete da esquina comprar cigarretes e caçulinhas, depois resolvemos matar tempo na Praça da Fonte. (Uma rua estreita a separava do Parque das Águas, quase em frente à escola, onde havia torneiras que jorravam litros de água mineral diariamente). Naquele dia, ninguém tinha motivo para almoçar em casa. A TV Globinho já havia terminado, o Chaves, também; meus pais, que eram corretores de imóveis, viajavam a trabalho; o Marcelo tinha só a mãe, que estava triste e muito deprimida e ele não suportava vê-la naquele estado; e o Otávio preferia ser órfão porque a vida entre quatro paredes era uma ditadura latino-americana barra-pesada. Do outro lado da praça, a Lan do Marcola entupiu e não cabia mais gente até algum maluco ligar o som no talo, um maluco de muito bom gosto por sinal porque “The Kids Aren’t Alright”do The Offspring é um clássico maneiríssimo do nosso tempo. Parecia divertido mas, daquela vez, não ia rolar partida de CS. A gente tinha coisas mais importantes para fazer.
Meu plano nasceu corroendo os princípios científicos e historiográficos da Dona Elaine pois, surpresas à parte, eu queria mesmo colher relatos ufológicos. Marcelo coçou o queixo e assentiu; na verdade, afirmou saber exatamente quem poderíamos entrevistar, mas não entregou o ouro antes que sentássemos de rodinha na praça. Afinal, a cabeça funciona melhor de barriga cheia – seu lema para a vida. Garoto sardento que era, com olhos grandes no rosto alegre, contou a história do Espírito de Luz entre uma mordida e outra no salgadinho; disse que um dos pescadores tinha amizade com sua avó e gostava muito dele. A história era incrível. Otávio, moreno e mais atlético, sequer piscou sob a nuvem de cabelos castanhos. Enquanto isso, o roteiro de perguntas foi simplesmente surgindo no bat-caderno, fluía com a naturalidade das águas do parque tão rápida era a minha caneta. Assim que ficou pronto, subimos a Rua Dr. José dos Santos em direção à Avenida João Bráulio Júnior, que circunda o imponente Lago Guanabara. Se uma pessoa não deixa as tarefas para depois é porque dá valor, como a minha mãe sempre dizia. As mochilas pretas pareciam cascos de tartaruga na pele lisa e as camisetas de uniforme foram parar dentro delas, todas úmidas, pois fazia muito calor. Os últimos goles de caçulinha ajudaram a refrescar.
Nosso entrevistado se escondia a dois quilômetros do centro da cidade, mas a distância não é problema para um bando de adolescentes que só pensam em curtir o momento. E, por mais que adolescentes sem camiseta atraíssem olhares curiosos, não foi difícil recusar três caronas. Esses aí querem curtir, aquelas pessoas devem ter pensado, e elas estavam certas. Percorremos o passeio de pedra portuguesa até a metade da Volta do Lago, com o farfalhar das árvores ao sabor do mormaço e o sol escaldante produzindo ondulações frenéticas no asfalto. Liguei o Linkin Park no meu MP3 roxinho porque aquele era o som da minha vida. Marcelo arremessou a garrafa de caçulinha no terreno de um velho sobrado em ruínas do outro lado da pista, o que fez todos vibrarem. Otávio amarrou o uniforme na cabeça como se fosse o Osama Bin Laden e começou a andar cheio de atitude. Foi hilário. Éramos vândalos a poucos meses de virar “pinga-ruim”, como os pescadores e todos daquela cidade.
Passamos pelo maior bougainville do mundo (podem pesquisar na Internet), cruzamos uma parte da orla com casas muito bonitas e miramos o trevo na metade da Volta do Lago, em frente a um botequim disfarçado de casinha modesta. Ele dava quatro opções, como o Show do Milhão: prosseguir, deixar a cidade, retornar ou ficar ali mesmo, comendo mosca. A alternativa dois era nossa escolha óbvia. Então, tomamos rumo em direção a um apinhado de casebres que ladeavam o letreiro com o nome da cidade, quase na divisa com a zona rural. Marcelo bateu palma em frente a um deles – simples, porém simpático. Dava para ouvir a falação do Jornal Hoje de longe, pois a porta estava aberta. Esperamos um pouco, até um homem velho e calvo surgir de havaianas, bermuda marrom, camisa polo listrada e boné da Shell. Ele falou primeiro com o garoto que conhecia, neto da sua amiga, depois cumprimentou os demais e ofereceu caldo de cana 0800 da máquina parada no passeio. Disse que não ia cobrar da gente, porque a gente era “tudo novo”, mas eu nunca gostei de caldo de cana, o Otávio também não gostava, de modo que o Marcelo teve que fazer as honras por “questões diplomáticas”, como explicou mais tarde. Ele, então, abriu o jogo e a razão da nossa visita. O homem ouviu, coçou a testa suada e se aprumou na pequena banqueta de vendedor, inflando o peito como se fôssemos uma equipe da EPTV, mas éramos repórteres descamisados. Peguei o bat-caderno na mochila e a entrevista começou.
Num fim de tarde como outro qualquer, Seu João e dois companheiros já tinham um balde cheio de lambarizinhos, que levariam até o Bar da Ducha para fritar e comer com limão, quando avistaram uma figura luminosa às margens do lago. Tinha porte de homem, mas brilhava em brasa e era translúcida feito o fogo, de modo que dava para ver através dela. A figura caminhou pela relva com a leveza de uma garça, depois sumiu. À noite, enquanto os peixes boiavam no óleo fervente, o causo provocou uma explosão de gargalhadas no bar e virou “história de pescador”. Seu João chegou em casa na hora da novela e contou tudo para Dona Maria, que acreditou e ficou emocionada. Disse que eles tinham visto um anjo. Mas nada tirava da cabeça de seu marido que se tratava um Espírito de Luz, enviado para proteger as águas. Para mim, só podia ser um alienígena. No fim do relato, Seu João mencionou uma outra testemunha da figura luminosa. Disse que um tal de Mário a avistara perto da serra, algumas semanas antes. Assim, ganhamos de bandeja nosso próximo entrevistado.
A sombra das árvores começava a se alongar. O caminho de volta era sempre mais rápido, de modo que em vinte minutos chegamos ao centro da cidade e sabíamos exatamente para onde ir. Em Lambari, todos conheciam o Mário. Mesmo assim, Marcelo queria, de qualquer jeito, que a gente perguntasse quem é Mário; o assunto sempre induzia a uma pergunta, porque ele não podia perder a piada. Descemos a Dr. José dos Santos até a Praça Vivaldi Leite, em frente ao grandioso Condomínio Imperial. Lá estava o tal do Mário, que comia muita gente atrás do armário, sentado em uma portinha de esquina com a mureta azul que dava para o Rio Mumbuca e se estendia rua abaixo, de frente para a Praça da Fonte. Bilheteiro do antigo fliperama no subsolo do edifício, ele era um leão-de-chácara magro e enrugado, sempre à espreita. Tinha fama de mala-sem-alça, mas foi gente boa com aquele trio de vândalos descamisados. Acho que as pessoas gostam de ser ouvidas.
Mário apoiou as ancas na mureta e começou a tagarelar. Disse ter visto o Espírito de Luz na cabeceira do lago, porque ele gostava das águas, depois na subida da serra. Na segunda ocasião, pareceu encará-lo como se quisesse falar alguma coisa, depois sumiu. Daí veio a parte mais interessante. Mário falou das sete pedras que levam ao centro da Terra, de onde veio o Espírito de Luz. Ele é o guardião das águas que, segundo a lenda local, vive nas profundezas e ronda a cidade para tomar conta das fontes, rios e cachoeiras. É o próprio espírito do lago. Essa hipótese se chocava com a minha, pois o que sabemos dos alienígenas é que eles vivem fora da Terra, não dentro dela; mas a ideia era interessante mesmo assim.
Depois da entrevista, queimamos várias fichas e levamos uma coça do Otávio no Street Fighter, porque ele era rápido com as manetes e o Dhalsim é um maldito apelão. Os sinos da igreja tocaram às dezoito em ponto e o dia se encerrou na Praça da Fonte, onde planejamos os nossos próximos passos. Segundo o Mário, a passagem para o centro da Terra ficava atrás de uma queda d’água no Horto Florestal de Nova Baden. Enquanto ele falava, fiz questão de rascunhar no bat-caderno um mapa. Na manhã seguinte, sairíamos para o ginásio às sete, como de costume, mas não chegaríamos lá. Fizemos um montinho com as mãos e selamos nosso pacto, sorrindo de orelha a orelha. O espírito de aventura e subversão adolescente mal cabia no peito. Cada um de nós seguiu para sua casa ao anoitecer. Antes, torrei minha mesada com um filme de 12 poses.
Na manhã seguinte, assim que o Nokia 1100 apitou com o SMS, soube que o Marcelo tinha sido o primeiro a chegar ao ponto de encontro. As ruas ainda dormiam e o cenário passava rapidamente por mim sob o céu de um púrpura embaçado. Quanto mais eu afundava os pedais, mais a Caloi vibrava nos paralelepípedos do centro da cidade. A brisa fresca de outono me guiou até a Paradinha Melo, na rua alta de fundos com o Condomínio Imperial, onde ficavam os resquícios de uma estação de trem no século passado, hoje irreconhecível. Otávio também já estava lá, ao lado de Marcelo, ambos com o corpo ereto sobre os selins, feito dois cavaleiros andantes nas suas bikes.
Os pneus engasgaram ladeira acima e só tomaram impulso entre os sobrados de cimento e tijolo da periferia, antes de deslizarem mais suavemente no asfalto da BR-460, comigo na liderança do grupo. Os casebres modestos davam lugar à imensidão verde que se estendia até a serra, cortada apenas pela rodovia e limitada à esquerda por toscos mata-burros, com áreas de queimada aqui e ali.
Fizemos o percurso de cinco quilômetros em dez minutos. Então, atravessamos a pista e paramos por um instante. A porteira do Horto estava aberta e, diante dela, os papéis se inverteram. Marcelo nos desafiou com sua cara de esperto e um olhar que dizia tudo. Na cola dos meus amigos, apertei o guidão ribanceira abaixo e cruzei a pinguela a mil. Juntos, passamos feito um furacão pela casinha do vigia, que gritou um “opa” e perdeu o chapéu tentando alcançar a gente, mas comeu poeira. Às gargalhadas, escondemos as bikes atrás de um arvoredo e entramos a pé na trilha de mata fechada como exploradores recém-chegados à selva amazônica, embora nosso objetivo fosse menos ambicioso e menos inacessível que uma tribo indígena. Ao som dos micos madrugadores, andamos e andamos pelas estradinhas de terra batida repletas de folhas, galhos e pedregulhos. Enxames de mosquitos se alimentavam do nosso sangue e enchiam o saco, deixando suas marcas na pele irritada, a coceira e a vermelhidão se espalhando feito sarna. À frente, Marcelo pôs o bilau para fora e batizou o tronco de uma árvore com um jato dourado digno do livro dos recordes. Otávio andava distraído quando um mico roubou seu Passatempo, o que deixou ele muito revoltado. Pelo menos não foi o bilau do Marcelo. Coisas assim a gente não vê no Globo Repórter.
Meia hora depois, avistamos o morro espiralado das Sete Quedas em meio às frondosas árvores enfeitadas de cipós. A paisagem era muito bonita, de modo que paramos para admirar as águas cristalinas, criando coragem para subir a trilha em torno da cascata. Aproveitei para tirar fotos do lugar e dos meus amigos, mas eles só sabiam fazer careta. Após comer uns salgadinhos, decidimos subir a trilha morro acima. Algum tempo depois, não sem dificuldade, alcançamos o quarto platô pedregoso e pulamos o vão por onde descia o aguaceiro. Otávio ficou com medo de cair lá embaixo mas, num impulso de coragem, ele conseguiu pisar do outro lado em segurança. Contornando a encosta, depois do matagal frio e úmido onde desembocava uma cascata errante, havia uma área secreta. Era o lugar indicado no mapa! Atravessei o véu de água fria e cristalina com o braço e tive certeza. Ficamos todos apreensivos, mas era tarde demais para amarelar. Tiramos a roupa e largamos nossas coisas sobre uma pedra, certos de que o vigia perna-de-pau não chegaria ali. Em fila indiana, dei a mão para o Marcelo e ele fez o mesmo com o Otávio. Respirei fundo, prendi a respiração e só abri os olhos do outro lado, após atravessar o véu d’água como se fosse o Stargate. Puxei a franja molhada para trás e contemplei a enorme caverna ao nosso redor.
— Cacete, é muito grande! — exclamou Otávio. E, de fato, era. Só não era totalmente escura devido à cascata, espécie de tela prateada, e aos escassos fachos de luz que emanavam das fendas na rocha, filtrados pelos ramos das frondosas árvores do lado de fora. Mas seguir em frente era mergulhar na escuridão cada vez mais profunda.
Peguei o Nokia, que fazia um volume exagerado dentro da cueca, ainda que não fosse incomum para um adolescente na puberdade, e ativei a lanterna como se ela fosse o meu sabre-de-luz. Eu era um Jedi abrindo caminho pelos túneis que desciam rumo ao abismo. Otávio só sabia dizer “cacete” e Marcelo simplesmente não falava, como se tivesse perdido o dom da fala. Todos ficamos meio abobalhados, na verdade. Lá embaixo, na câmara vasta e circular sem musgos, líquens ou resquícios de luz natural, o frio gelava os ossos. A lanterna passeou pelos paredões rochosos, refletindo nas sete pedras ao redor, espécie de Stonehenge subterrâneo com inscrições hieroglíficas. Por último, pousou no enorme fosso no chão, no centro da câmara. Na verdade, ele nem era tão grande, o que descobrimos graças à lanterna. Parecia mais um grande funil de pedra, cuja área circular possuía vários níveis de anéis cortados na rocha, repletos de gomos pedregosos de vários tamanhos. No centro, havia um tipo de ralo, que observamos em detalhes.
— Parece um cu de pedra! — Otávio enfim desembuchou, fazendo a gente cair na gargalhada. Tinha algo de perigoso, indecente e, ao mesmo tempo, hilário naquela palavra.
Descemos pelos gomos lisos nos equilibrando uns nos outros, mas a cautela é inversamente proporcional à curiosidade. Otávio se apoiava nos meus ombros, tentando olhar sobre eles, mas o que chamou a nossa atenção veio de baixo. Quanto mais perto do fosso, mais quente o chão de pedra. Marcelo lembrou que Lambari fica dentro de um vale, no coração de uma antiga região vulcânica. Portanto, o fenômeno poderia muito bem ser um gêiser ou algo do tipo, como aqueles que estudamos nas aulas de Geografia da Dona Márcia. Fazia sentido, pois o buraco assobiava e soprava um vento quente de modo que nos aproximamos dele para aquecer o corpo. De repente, ficamos todos de quatro, o rosto colado na boca do fosso, de onde subia um estranho brilho. Sob a luz baixa da lanterna, os garotos me olharam assustados, incrédulos com o que fiz logo em seguida.
Devagar, enfiei a mão no buraco estreito e quente. Depois, o braço, que desceu cada vez mais fundo fazendo a penugem da nuca arrepiar. Lá dentro, em meio ao jato de calor que jorrava do fosso, havia algo solto e balançante que puxei para fora sem dificuldade. A esfera de plasma brilhou nas minhas mãos como uma esfera do dragão, antes de ganhar a coloração de uma lâmpada de luz negra. Dentro dela, vislumbrei o universo.
— Já vi isso em algum lugar. – Disse Marcelo com agitação.
A lanterna do Nokia já não era necessária, pois da esfera emanava uma claridade roxa forte o bastante para iluminar toda a câmara.
— Acho que eu sei! Venham comigo! – Insistiu ele.
Marcelo era o mais observador dos três. Assim que entramos na câmara, bastou um breve lampejo do Nokia para que desse falta de algo nas sete pedras, como em um jogo dos sete erros. Aparentemente, devia haver uma “peça” em cada uma delas, mas elas não estavam no lugar certo, coisa que ele fez questão de provar. Como não captamos seu raciocínio logo de cara, ele tomou a esfera da minha mão e a encaixou na pedra mais próxima, que se iluminou feito um poste de dentro para fora. Animado, ele disse que era só fazer o mesmo com as demais, só não disse como. Acabamos descobrindo o segredo no próprio fosso, pois ele gerava fluidos que formavam novas esferas de tempos em tempos.
Foi um jogo de paciência. Levou duas horas até que a última peça estivesse no seu devido lugar. Feito isso, a iluminação roxa irradiou por toda a câmara, que foi tomada por um barulho ensurdecedor e começou a vibrar, despejando lascas e pó de cascalho sobre nossos corpos nus. De repente, os gomos de pedra lisa começaram a rolar em direção ao fosso, ao centro, movendo-se em aceleração constante pelos anéis cortados na rocha e formaram um redemoinho, como se alguém tivesse aberto o ralo ou a comporta da piscina de bolinhas da Praça da Fonte. Logo, os pedregulhos sumiram lá embaixo e a valeta se transformou em um poço vertical enorme, com uma escadaria em caracol que circundava a parede rochosa e descia a perder de vista, cada vez mais fundo na escuridão.
Não perdemos o espírito de aventura, mas o brilho dos nossos olhos revelava um medo cada vez mais forte. Sujos e cobertos de cascalho, que virou lama nos corpos ainda úmidos, começamos a descer devagarinho porque, na ausência de corrimão, o menor vacilo seria fatal. A escada de pedra tinha trezentos ou quinhentos degraus… Acabamos perdendo a conta. A única certeza era que realmente levava ao centro da Terra, mas o que havia lá embaixo permanecia um mistério. Talvez a catacumba dos astronautas de mármore ou um reino pré-histórico habitado por dinossauros e povos inumanos.
Sabe-se lá a quantos metros da superfície chegamos ao fundo do poço e ao acesso para outra câmara muito diferente das anteriores. Nossos pés descalços tocaram o piso frio de metal escovado, não de rocha, mesmo material que revestia as paredes e o teto do imenso salão oval. De repente, como se o lugar fosse dotado de vida artificial e reagisse à nossa presença, o clarão que explodiu sem nenhuma fonte visível absorveu a luz do Nokia e quase nos cegou, revelando máquinas e painéis eletrônicos que apitavam, zuniam e ribombavam numa sinfonia infernal. Não fazíamos ideia de que lugar era aquele, embora eu tivesse quase certeza porque tocava nas minhas crenças mais antigas nos seres do espaço. No centro da câmara havia um tanque cilíndrico com espaço para uma pessoa.
— É uma máquina de teletransporte! – Exclamou Marcelo, como quem tem certeza do que está falando. A conclusão foi surpreendente até para mim.
— Não dá para saber, ninguém viu um negócio desse antes. – Respondi.
— Essas paradas são intuitivas, cara! Nas séries de televisão as pessoas sempre sabem como usar, porque é assim com a tecnologia avançada, ela é fácil e acessível!
— Pode crer! – Concordou Otávio. — Que nem naquela série velhona que passava na Record! E olha só!., Tem uma roupa esquisita dentro do tanque.
— Deve ser um traje responsivo! – Sugeriu Marcelo.
— Um… o quê? — Perguntei sem entender.
— É um traje que responde aos estímulos físicos e emocionais do corpo humano.
— De onde você tirou isso?
— Cara, se liga! Você sabe onde estamos? Isso é coisa de uma civilização mais avançada que a nossa! — Atirou ele, abrindo os braços para a amplitude do salão. — Os alienígenas sabem conectar o corpo e a mente por meios tecnológicos!
Minha coragem de explorador murchou no momento em que o Marcelo pôs os pés no tanque. Tentei fazer sua cabeça, explicar como era perigoso, mas ele me ignorou e resolveu entrar mesmo assim. Era teimoso feito uma égua sem mãe. Em pé na superfície circular, ele montou no próprio corpo o traje dourado esquisito, feito de várias placas, muito semelhante à armadura de Gêmeos dos Cavaleiros do Zodíaco. Já o capacete não passava de um domo brilhante que cobria só o topo da cabeça. Dele saía uma viseira de vidro laranja quase igual àquela dos integrantes da Força Ginyu, do Dragon Ball Z. Otávio e eu ficamos quietos, só observando, pois ele se achava um super-herói de verdade, mas ainda conseguiu arrancar boas risadas com as poses muito loucas que fazia.
Alguns minutos se passaram e nada aconteceu. Deixa de ser besta, pensamos alto. Sai daí e vamos descobrir que lugar é esse! Quando engrossamos a voz e insistimos, sem paciência, ele pareceu prestes a nos ouvir, mas não teve chance. A máquina se ativou sozinha, gerando uma espécie de campo energético ao redor. Nossa primeira reação foi gritar, mas sufocamos logo em seguida, assim que o capacete se acendeu feito uma cúpula de opalina, brilhando e pulsando cada vez mais forte. Marcelo, como se estivesse possuído, balbuciou palavras estranhas com a face pálida e os olhos leitosos sem pupilas.
— O universo… Num vórtice de energia, vou dele para o anverso. Fora do corpo, só o que a mente vê… toda a cidade e Além. Ando sem deixar rastro. Na cabeceira do lago, um homem também me vê. Ele sente medo. Depois na serra, de novo, perto dela. Lambari tem muita água, é o que temos que proteger, é o que vamos proteger. Mais três homens, às margens do lago, vejo. Temem o que sou e o que pode ser, o que há de ser… mas há esperança, há mudança. De quantos vejo, de quantos ainda posso ver.
O capacete, cérebro de luz vermelha pulsante, ofuscava nossos olhos. Marcelo foi aos poucos se encurvando, os músculos contraindo-se e as veias salientes prestes a estourar nas partes nuas, nas áreas descobertas pelas placas da armadura. Seu corpo, então, começou a vibrar em frenesi quando arcos elétricos subiram e desceram em movimentos assíncronos fora do tanque, gerando faíscas e pequenos relâmpagos.
Num estalo nuclear, gritamos. O corpo já não existia, as placas da armadura, no chão, perderam a cor. As luzes se apagaram.
***
Seres imundos e enlameados se esgueiravam no mato, incertos de quanto tempo havia transcorrido. A sensação era de ressaca, mas os adolescentes ainda estavam a alguns meses de sentir o peso-morto dessa palavra. Os seres rastejantes éramos nós, ou o que restara depois da aventura. Lutamos para recobrar a consciência com muita dificuldade. Nus como viemos ao mundo, deixamos um rastro pelo caminho até alcançarmos a água pura e cristalina do poço, como fazem os animais instintivamente.
No primeiro nível das Sete Quedas, esfregamos as crostas da pele até dissolvê-las por completo. A lama escorria entre as pernas e era levada pela correnteza. Lavamos também o rosto e os cabelos endurecidos. Brilhantes, úmidos e de banho tomado, subimos as pedras atrás das nossas roupas. O grande espanto foi descobrir que a cascata secreta desaparecera. No lugar dela, vimos um paredão rochoso, nada mais.
Algo não estava certo. Quando a ficha caiu, descobri o que mais faltava.
— Cadê o Marcelo? — Perguntei preocupado.
— Quem? — Devolveu Otávio, sem entender.
— O Marcelo, onde ele está?
— Quem é Marcelo?
Com as roupas agarrando desconfortavelmente no corpo, tivemos uma discussão que não chegou a lugar algum. Por insistência minha, procuramos no mato, nas trilhas, entre as pedras, sem sucesso. As coisas do Marcelo também haviam desaparecido. Talvez ele tenha ido embora sem a gente, pensei, ou talvez os dois estejam zoando com a minha cara – o que era mais provável. Mas Otávio ficou realmente confuso com aquela história toda e não parecia estar mentindo. Quietos feito lápides, pegamos as nossas bikes e fizemos o caminho de volta até a cidade debaixo do punho em brasa do sol do meio-dia. Deixei minhas tralhas na garagem e atravessei a casa no piloto-automático, num misto de choque e exaustão. Apaguei por dezoito horas, na esperança de acordar daquele pesadelo.
A sala de aula não era mais a mesma. Pela manhã, a carteira da frente estava vazia, o nome que eu esperava ouvir não constava na chamada e ninguém da turma se lembrava dele. Ninguém se lembrava dele, nem mesmo a sua mãe. Não havia registros seus na escola, no fliperama, na academia, em lugar nenhum. Ansioso, quase desesperado, tive uma ideia. Saí do ginásio mais cedo no dia seguinte e cruzei o Parque das Águas até a loja de fotografia levando comigo o filme – a única prova da sua existência. Durante a revelação, tudo o que eu podia fazer era esperar, mas o tempo na Lan House era estacionário. Horas mais tarde, quando finalmente saí da loja com o envelope laranja, mostraria para o mundo inteiro o rosto do meu amigo. Mas, para o meu choque, ele também não estava lá. Era como se alguém tivesse apagado sua imagem das fotos. Com os olhos marejados e o coração apertando de culpa, descobri que o Marcelo não existia.
Meses depois, a minha vida mudou. O espírito de aventura estava morto e enterrado e posso dizer que me perdi pelo caminho. Num fim de noite qualquer, sentado no passeio do fliperama, fui novamente um dos poucos adolescentes a puxar assunto com o Mário. Era a primeira vez que abria o jogo com alguém, num impulso de coragem estimulado pela garrafa de cerveja quase vazia entre meus All-Star, a saideira de muitas. Para a minha surpresa, o homem não só acreditou na história como também se lembrava do Marcelo. Segundo ele, o tanque era uma máquina do tempo interdimensional que fez meu amigo sumir da nossa realidade e se tornar o Espírito de Luz, um guardião que existe além do tempo.
O Mário morreu de causas naturais alguns dias depois, de modo que eu me tornei o último abrigo das lembranças do Marcelo. Talvez essa seja a minha maldição.
Passo os dias esperançoso de ver meu amigo de infância. Aconteceu com algumas pessoas, perto do lago, na subida da serra, nos arredores das Sete Quedas, mas eu nunca tive sorte. Meu consolo é saber que ele está sempre por perto, protegendo as águas.
Na aula da Dona Elaine, um bilhete roçou o meu ombro. Enfim, eu me rendi e disse para o Gabriel que sim, sairia com ele. A vida é muito curta. Lambari, 6 de outubro de 2003.