Nunca dei muita trela pras crendices e superstições da minha família, até que circunstâncias muito macabras fizeram cair por terra minha completa descrença no sobrenatural. Foi na Quarta-Feira de Cinzas do ano de 2018 que se sucedeu esse “causo” de assombramento, algo do qual eu já tinha ouvido falar nas vezes em que visitava meus avós na roça, enquanto bebíamos uma caneca de café fresquinho e jogávamos prosa fora perto do fogão a lenha. Contudo, jamais imaginei que iria vivenciar em primeira mão tais terrores do imaginário popular.
Era o início da Quaresma, um período santo ainda com bastante adesão entre a comunidade religiosa de Minas Gerais, da qual eu não fazia parte. Minha mãe, sim, fazia. Era católica fervorosa desde criança e, assim como tia Cotinha, tia Neném e Tia Zinha, quando não ia à missa de manhã, ia à noite; isso quando não em ambos os horários. Era presença garantida nas procissões dos dias santos e sempre que podia rezava uma novena, mas algo que ela jamais perdia era a missa de Cinzas. Naquele ano ela tinha ido com o meu irmão, depois de insistir incansavelmente para que eu fosse junto, me tirando do sério e azedando meu humor.
Minha mãe temia bastante o período de Quaresma e o encarava com bastante seriedade. Segundo ela, era o período em que o diabo em pessoa estava livre para caminhar sobre a terra, e os assombramentos aconteciam com maior frequência: correntes eram arrastadas na rua de madrugada, vozes conhecidas chamando nosso nome quando estávamos completamente sozinhos (era prudente não responder, dizia mamãe, mas o porquê eu nunca soube ao certo), a procissão das almas, vultos e sombras vistos pelo canto do olho e toda a sorte de macabrices que se pode imaginar, vazando pela greta na porta do mundo dos mortos. A missa de Cinzas era uma proteção extra da qual mamãe fazia questão, mas eu não via qualquer atrativo nesta celebração.
No fim das contas não fui. Fiquei em casa, no meu quarto, deitado e assistindo a um filme qualquer pelo notebook, aproveitando o resto do feriado de Carnaval antes que a rotina voltasse. Senti fome, pausei o filme e me levantei para buscar um trem qualquer na cozinha. Abrindo a porta do quarto, dei com o corredor completamente escuro. Mailo, o cachorro da minha mãe, choramingou lá da sala, pedindo atenção e, enquanto eu caminhava e tateava a parede em busca do interruptor, chamava o cachorro para que ele viesse até mim. Foi então que, pé por pé, andando com aquele receio de estar enxergando pouco ou quase nada, afundei o pé numa meleca pastosa, fazendo subir um cheiro forte de merda no meu nariz.
— Mas que desgraça, Mailo. Olha a merda que você fez!!
Finalmente achei o interruptor e acendi a luz, revelando o corredor do apartamento todo sujo de bosta. Mailo estava na sala, deitado no chão, fazendo sua melhor cara de piedade.
— Que inferno, Mailo. Agora eu vou ter que limpar essa desgraça toda.
O cachorro se levantou constrangido e foi para o quarto da minha mãe, enquanto eu ia até o banheiro, pulando em um pé só feito um saci albino para não deixar a casa mais suja do que já estava. O cheiro de merda fresca me embrulhava o estômago e me fazia tremer de asco e raiva.
— Nossa, que desgraça de cachorro, viu?! Minha mãe também, nem pra levar ele pra cagar na rua, antes de sair. Nossa, que nojo.
Puxei um generoso monte de papel do rolo ao lado da privada, limpei meu pé o máximo que pude e depois lavei no chuveiro. Em seguida catei o cocô no corredor, limpei o chão com um pano úmido e desinfetante e aproveitei para juntar todo o lixo do apartamento e descer para o depósito. Peguei as sacolas, as chaves e, na entrada, decidi levar o cachorro comigo pra que ele pudesse fazer suas necessidades.
— Mailo? Mailoo? — ele veio saltitando até a sala e ficou me encarando de longe. — Vamos lá embaixo?
O cãozinho choramingou e se deitou no chão.
— Anda, vamos. Se você cagar aqui dentro outra vez eu vou te fazer comer o cocô.
Ele se levantou, abanando o rabo e me acompanhou para fora do apartamento. Fechei a porta e, enquanto trancava, encarei o espaço vazio onde devia estar a cruz roxa que minha mãe tinha colocado ali, cumprindo com seus ritos quaresmais. Não demorou para que eu a encontrasse no chão, caída próxima à porta. Peguei e a coloquei de volta, depois desci, com o vira-latas bamboleando sua bunda redonda ao meu lado.
No térreo, Mailo parou ao pé da escada, choramingando para a porta de saída. Eu o chamei, mas ele parecia relutante em me acompanhar. Chamei novamente, mas ele apenas choramingou uma última vez e subiu as escadas apressado. Desisti de tentar levá-lo comigo, abri a porta e caminhei até o quartinho ao lado da guarita, onde ficavam as duas caçambas de lixo do condomínio. Joguei o lixo em uma das caçambas e saí logo daquele lugar fedorento, ainda lembrando do cheiro de bosta fresca de cachorro.
Apesar de ter chovido, a noite estava bem quente, e a lua brilhava soberana no céu. A área do prédio estava estranhamente vazia; a ausência de crianças andando de bicicleta e adultos conversando sobre coisas corriqueiras deixava um silêncio um pouco desconfortável. Não sei se foi apenas a quietude do condomínio ou alguma coisa que eu não tenha percebido, mas senti um trem esquisito no peito, um arrepio gelado na espinha e a sensação de que devia voltar logo para dentro do prédio. Apressei o passo, caminhando ligeiro e, logo na entrada, pisei em falso num dos paralelepípedos bambos do pátio e arrebentei a correia do chinelo.
— Inferno… nossa… que desgraça, mano. Hoje não é meu dia, viu?!
Abri a porta do prédio com o chinelo na mão e subi as escadas, irritado por precisar lavar o pé outra vez. Mailo estava deitado na porta do apartamento me esperando e, quando eu cheguei, ele ficou bem agitado, se pôs a arranhar a porta, ansioso para entrar. Ao seu lado, caído no chão, estava mais uma vez o crucifixo roxo da Quaresma. Até pra mim, que não era muito de acreditar nessas coisas, esse trem de crucifixo caindo toda hora era de deixar as orelhas em pé. Destranquei a porta e deixei o cachorro entrar. Catei a cruz do chão e coloquei de volta no lugar, já puxando na cabeça as orações que eu sabia de tanto acompanhar novena quando era pequeno. Entrei no apartamento e, quando me virei para fechar a porta, dei com uma velha esquisita parada além do batente. Suas roupas puídas e sujas exalavam um fedor de sujeira, cheiro de quem está há dias e dias sem passar um sabonete debaixo do braço. Na cabeça, prendendo os cabelos, ela tinha um lenço imundo e desfiado em vários pontos, por onde vazavam mechas de cabelo oleoso e embaraçado. A pele da velha, castigada pelo tempo e pela falta de cuidado, estampava diversas rugas, manchas e cicatrizes. Mas o que mais se destacava era seu olhar de bicho ruim, me encarando com revolta, como se eu a tivesse ofendido de modo imperdoável. A mulher estava descalça, tendo ao seu lado, encostadas em suas pernas, uma esteira de bambu enrolada e uma volumosa trouxa de pano. A figura decrépita e malévola atiçou em mim um medo inexplicável que fez eu querer me afastar dela na mesma hora.
A mulher, por sua vez, continuava me encarando, sem desviar aquele olhar agourento, sustentando o rancor cujo motivo eu desconhecia. Eu a encarava de volta, sem conseguir falar ou mesmo disfarçar meu medo. Minha cabeça já fazia algumas conexões, e um frio de medo lambia minhas costas, da base da coluna até a nuca, um troço ruim dentro do peito que eu não sabia definir. Ficamos assim por intermináveis segundos, um olhando pra cara do outro, até que eu finalmente rompi o silêncio.
— Posso ajudar?
A velha sinalizou a porta com a cabeça e disse, numa horrenda voz rouca e cansada que me arrepiou a espinha e fez tremer igual vara verde:
— Tira isso daí da porta pra eu poder entrar!
Meu olhar foi automaticamente até o crucifixo roxo da Quaresma, que eu tinha acabado de pendurar em seu lugar. Ali já não tinha mais dúvida, e a constatação do que de fato estava acontecendo me atingiu como um soco na boca do estômago. Como falei há pouco, eu já tinha ouvido por diversas vezes aquela história, sobre uma velha sujismunda que carregava uma esteira velha de bambu e uma trouxa de roupa suja. Ela geralmente era vista caminhando por entre os pés de bananeira ou no meio do cafezal, trazendo de bagagem uma série de infortúnios, miséria e… desgraças.
Minha avó, que ouviu da sua própria avó, tinha contado para a minha mãe, que contou pra mim. Mas eu também ouvi da tia Zinha e da tia Neném, em ocasiões diferentes, o mesmo causo, sempre num tom sussurrado de genuíno temor, seguido de três batidas na madeira, como se a simples menção à entidade profana pudesse conjurá-la.
Talvez você também já tenha ouvido essa história de alguém. Se for mineiro, é quase certeza que sim. Um monte de gente conhece e passa pra frente, fazendo o sinal da cruz e se benzendo sempre que a mulher é citada. É sempre a mesma narrativa, contada num jeito sério de quem não tá de brincadeira. “Não tenho porque mentir sobre essas coisas”, eles dizem, e ninguém se atreve a duvidar. Alguém chama a velha vezes seguidas, recebendo avisos pra não fazer aquilo. Ela vem, se recusa a ir embora; e a vida da pessoa vai piorando dia após dia. Dinheiro não dura, os trem de casa estraga tudo, a pessoa perde emprego, passa aperto e vai só decaindo na mandinga da danada. No fim das contas ela aparece, anuncia sua presença. É sempre a mesma coisa. O que se altera é quem vive o assombramento, a cidade onde acontece e outros detalhes que pouco importam em comparação ao principal. Por serem muitas as repetições, a narrativa tinha perdido o poder de me assustar. Contudo, cá estava eu, vivenciando o terrível assombramento, cara a cara com o bicho ruim.
— Tira isso aí da porta. Você fica me chamando e bota isso aí pra quê?! Tira logo isso da porta!!
Meu primeiro impulso foi repetir a pergunta presente em todas as versões daquele causo, eu tinha medo de fazê-la mas, mesmo que não tivesse, não era preciso! No fundo eu já sabia quem era aquela mulher. Sentia a certeza tão forte quanto o pavor que me dominava. A certeza que eu tinha era de que precisava mantê-la do lado de fora.
— Eu não chamei a senhora…
— Chamou, sim!! E não foi uma vez só!! — Ela me silenciou com aquela voz horrenda. — Demorou pra eu te encontrar, mas o eco da sua voz não me dá sossego já tem tempos. Agora tira logo isso daí pra eu poder entrar.
— A senhora está enganada, ninguém te chamou aqui.
Eu me preparava para fechar a porta quando ela riu e disse:
— Tá com medo, né? Todo mundo fica manso quando eu venho. Tenta desconversar, dizer que não me chamou, mas chamou, sim! Só hoje foram quatro vezes. O caminho foi longo. Não é fácil cruzar plantação de bananeira e cafezal pra chegar nesse lugar feito de pedra e fumaça, mas eu consegui te achar. Eis-me aqui. Você precisa mesmo que eu me apresente?
Eu estava paralisado de medo. Meus olhos se encheram de água e eu desejei que a mulher desaparecesse dali, antes que ela pudesse verbalizar o que há muito eu já sabia.
— O meu nome… — ela continuou, baixando a voz para um sussurro assustador. — …é Desgraça.
Bati a porta na cara do demo, enquanto a velha ria do outro lado. Ouvi ela limpar os pés no capacho, do jeitinho que minha mãe contava. Não era fantasia de gente da roça! Estava acontecendo comigo! Fiz o sinal da santa cruz e engatei a reza do Credo. “Creio em Deus pai todo poderoso, criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único filho e nosso senhor, que foi concebido pelo poder do espírito santo”… Fui direto para o quarto, sendo seguido por Mailo, que choramingava angustiado. No fim das contas era verdade que bicho podia ver o capeta antes da gente e tentava nos avisar. Fechei a porta do quarto e sentei na cama. Minhas pernas tremiam mais que pé de couve na horta em dia de tempestade, os cabelinhos do meu braço tavam tudo arrepiado. Terminei a oração que, aqui em Minas, a gente aprende ainda no berço, e rezei outra vez. Então rezei mais outra. Devo ter rezado o Credo no mínimo umas vinte vezes até perceber que tudo estava em completo silêncio. Mas eu é que não ia abrir a porta do quarto!
Quando minha mãe voltou da missa, contei o que tinha acontecido e ela me repreendeu severamente. Poucas vezes na vida vi ela se enfezar daquele jeito e, quando vi, o trem não ficou bom pro meu lado. Assustada e muito nervosa, ela buscou uma vela branca e um copo d’água, acendeu pedindo proteção ao anjo da guarda e foi rezar um terço. Concluindo sua oração, ela pegou no dedo um pouco da cinza que trouxe na testa e ungiu a minha própria cabeça. Naquele dia, depois de uma bronca interminável, a mãe me fez prometer que jamais diria aquele nome outra vez, e eu concordei sem hesitar. Ainda tinha nítida na memória a imagem do olhar de bicho ruim daquela velha, o som maligno de sua voz ordenando que eu tirasse o crucifixo da porta, o cheiro de seus trapos imundos. Essas coisas perturbaram meu sono por vários dias.
Hoje em dia, apesar da experiência, eu ainda não sei muito bem definir em qual caixinha está a minha crença. Continuo não sendo cristão, mas também não frequento nenhuma outra casa de fé e, pra ser sincero, estou bem assim. Nunca pisei numa igreja depois do ocorrido, mas também nunca mais repeti aquele nome pestilento. A lembrança da velha, da desgraça pelada, foi o suficiente para me devolver a crença em alguma coisa. No que exatamente eu não sei, e nem é meu desejo definir. O que eu sei é que existe algo além do véu que separa o mundo dos vivos e o dos mortos, “mais mistérios entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia” e toda essa ladainha. Não interessa como a gente escolhe explicar esse tipo de coisa ou o nome do santo ou do diabo a quem se recorre. O que interessa de verdade é que, vez ou outra, esse véu entre os mundos é rompido e nós temos um vislumbre do outro lado, das coisas que seguem procissão arrastando suas correntes, das vozes que nos chamam de lugar nenhum e dos vultos e visagens que arrepiam nossa espinha. Essas coisas me levam a rezar todos os dias, seja o Pai-Nosso ou um ponto de macumba. Por Deus, Exu ou quem mais queira se compadecer de mim, rezo pra nunca mais trombar de novo com o olhar de bicho ruim daquela velha esquisita, e pra que esse seja o único causo que eu tenha na vida, pra contar na frente do fogão a lenha, tomando uma caneca de café fresco e ouvindo o uivo do vento do lado de fora.


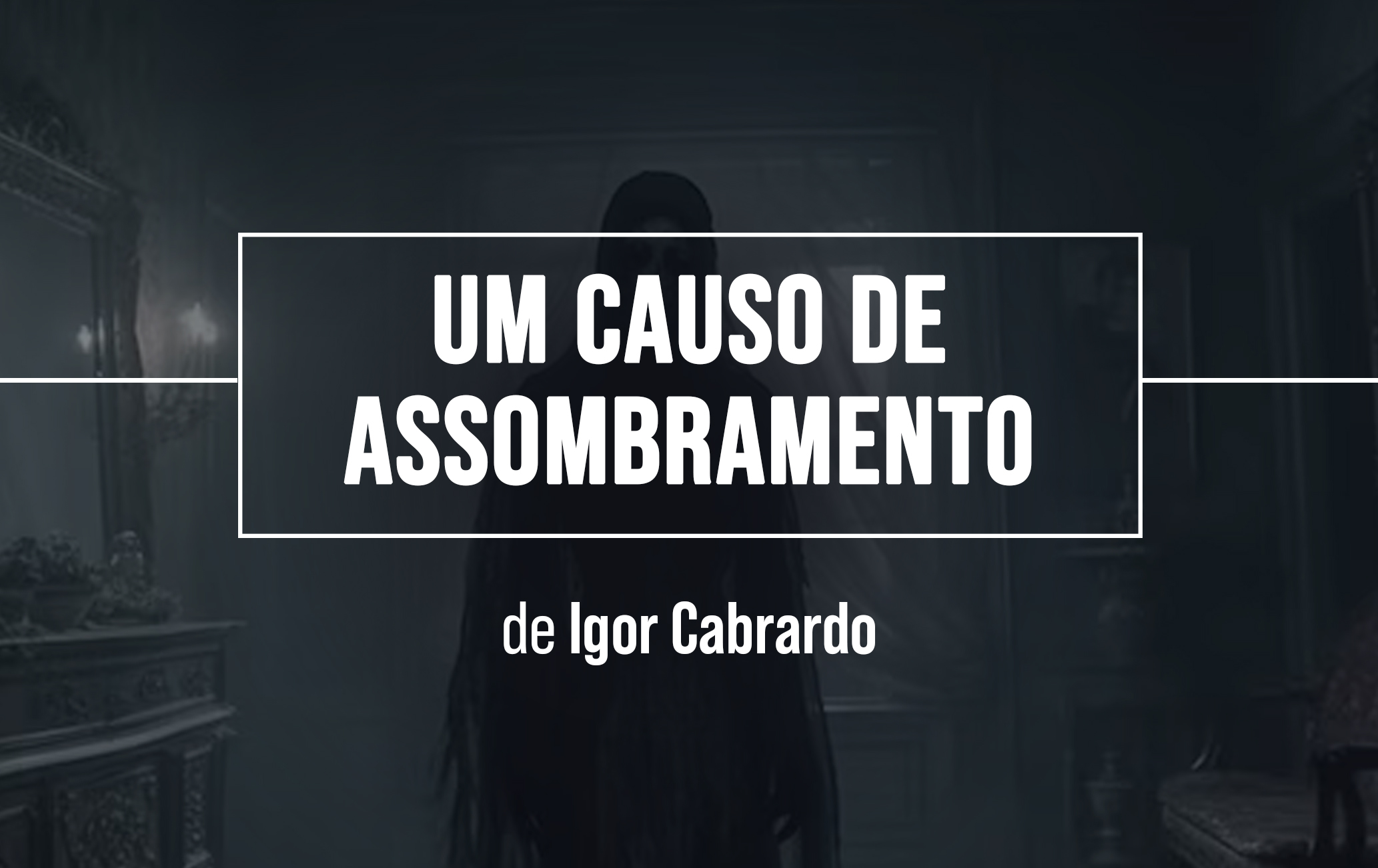




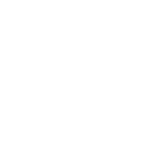
“Vozes conhecidas chamando nosso nome quando estávamos completamente sozinhos.”
Essa frase me fez lembrar de quando eu era pequeno e morava na roça (também em Minas). Muitas vezes eu ouvia a voz da minha mãe me chamando, mas quando ia até ela e perguntava se ela me chamou, ela dizia que não. Na época eu não sentia muito medo, mas relembrando penso se era imaginação ou se realmente algo me chamava.
O que piora minha história, é que essa cidade onde morava era rodeada de lendas e mortes. Algumas pessoas mais velhas falavam que a morte rondava aquele lugar, e não era de menos, já que, na época que minha vó era criança, muitas pessoas eram mortas ali, por causa de intrigas e terras. Outras pessoas, incluindo minha vó, falavam que as pessoas cortavam o pescoço da pessoa e deixava escorrer no rio, e assim se originou o nome da cidade: “Mar vermelho”.
Ah, é claro, a história, ficou bão demais da conta. Achei muito interessante ter um escritor mineiro que passou pelas quase mesmas situações que eu, isso me faz perceber que nenhuma situação é individual. Outra coisa que tenho que elogiar, é a valorização das práticas religiosas e do folclore, eu não tenho religião, mas vi de perto essa crença, pois minha vó é uma católica fervorosa.
Espero ver mais coisas desse autor.
4.5/5 ⭐